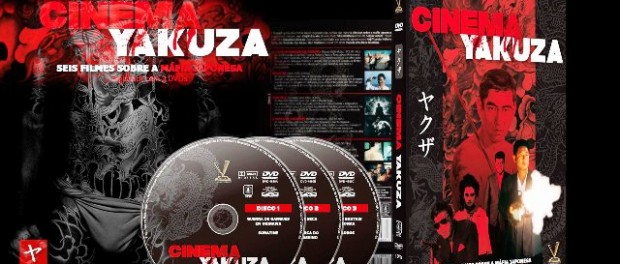VERSÁTIL LANÇA CAIXA COM SEIS FILMES SOBRE A YAKUZA. VEJA AQUI A ANÁLISE COMPLETA.
Por Celso Sabadin.
Ok, durante anos já se convencionou dizer que Yakuza é a “Máfia Japonesa”, porém, como tudo que existe no milenar e diversificado Japão, nada é assim tão simples. A começar pelo seu nome, que também é conhecido por Gokudo. A mídia japonesa a trata por Boryokudan (“grupo de violência”), enquanto seus próprios membros a denominam Ninkyo Dantai, ou “organização cavalheiresca”, num gentil eufemismo. Também são extremamente tênues e discutíveis seus limites éticos e legais, já que atualmente a Yakuza participa acionariamente de grandes empresas, e até foi elogiada pelas suas ações de salvamentos em terremotos e tsunamis. É uma polêmica sem fim no Japão, já que as bases da organização são criminosas.
Suas origens se perdem no tempo, tanto que a Yakuza dita “moderna” remonta ao século 17, e deriva dos tekiya (vendedores de produtos proibidos ou de má qualidade) e dos bakuto (exploradores de jogos de azar), dois dos mais baixos grupos sociais da sociedade daquela época, que sequer sobrenome possuíam.
Foi no período conhecido como Edo (1606-1868) que o governo reconheceu formalmente os tekyia, concedendo aos seus líderes um sobrenome e a autorização para carregar uma espada curta chamada wakisashi. O direito de carregar a katana, uma espada comprida, permanecia de uso exclusivo das castas da nobreza e dos samurais, mas aí já é outra história, e outra caixa de DVDs.
Os bakuto eram vistos com um desprezo ainda maior que o dos tekyia. Entre os jogos que exploravam, havia um chamado 8-9-3, que em japonês se pronuncia hachi-kyu-san, de onde teria vindo o nome yakuza.
A necessidade de organização destes desajustados sociais (pricipalmente tekyias e bakutos), marginais, vendedores desonestos, seguranças truculentos, contrabandistas e congêneres deu origem ao que se chamada de moderna Yakuza.
Obviamente tudo isto é apenas uma brevíssima visão panorâmica de uma organização extremamente complexa, repleta de normas, rituais, códigos, líderes, hierarquias, ramificações… e filmes. Muitos filmes! Os filmes de yakuza são tão antigos como o próprio cinema, e já eram populares na era muda, invariavelmente retratando este tipo de contraventor com heroísmo e simpatia. Quando o Japão ficou sob domínio dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, obviamente os conservadores norte-americanos passaram a censurar qualquer tipo de cinema onde o vilão pudesse se dar bem. Como eles faziam com seus próprios filmes, diga-se. Com o fim do domínio, em 1952, houve um ressurgimento do gênero, que permanece popular no Japão até hoje, principalmente entre o público masculino.
A caixa da Versátil contém 6 filmes divididos em 3 DVDs, produzidos entre os anos 60 e os 90. Por ordem cronológica, são eles:
FLOR SECA (“Kawaita Hana”), 1964.
Trata-se de um verdadeiro noir japonês existencialista. Após três anos na cadeia, Muraki (Ryô Ikebe) retorna à Tóquio. E a odeia. O ritmo da cidade é alucinante, todos parecem correr sem rumo, há uma overdose de informações, trens, passos, luminosos. “As pessoas fingem desesperadamente que estão vivas”, narra o off inicial do protagonista.
Logo ficamos sabendo que Muraki foi preso por matar um membro da gangue Yasuoka, então rival dos Funada, para quem ele trabalhava. Um assassinato que, por questões políticas, resultou vazio e sem objetivos, já que enquanto o assassino cumpria sua pena, os Yasuoka e os Funada se tornaram aliados, visando conter o ímpeto de uma nova gangue, os Imai, agora inimigo comum de ambos.
De volta à ativa, Muraki vai a uma casa ilegal de jogos, onde se depara com uma cena inusitada para a cultura japonesa da época: uma mulher jogando. Uma mulher jovem e sedutora que aposta enormes quantias de dinheiro e não se importa em perder. Ela é Saeko (Mariko Kaga), o elemento feminino de intenso mistério que permeará toda a trama. Uma belíssima fotografia em preto e branco e um jazz fortemente dissonante dão ao filme um intrigante e familiar clima de noir norte-americano.
Muraki e Saeko formam um par de outsiders. Ele, vivendo o estranho limbo de ter matado o inimigo de uma então gangue rival que hoje é amiga, admite que apenas o ato de matar, mesmo sem nenhum sentido, é a única coisa que o faz feliz. Ela busca na noite de Tóquio, quer pelo jogo, quer por rachas com seu belo carro esporte, alguma fonte de emoção. Ambos procuram seus limites. Num brevíssimo instante, esta Tóquio sem sentido filmada em 1964 conversa com a Roma de “La Dolce Vita” que Fellini registrara quatro anos antes. Por ambas circulam personagens perdidos, em busca de algo que nem eles próprios sabem o que é, como era moda nos sessenta.
Oriente e ocidente se encontram, se confrontam, se estranham, se assimilam. Com pinta de galã, o heroi é totalmente ocidentalizado. Olha feio para um rapaz que come arroz (gohan) à moda japonesa, sorvendo-o ruidosamente. Há outra cena que também faz referência ao ruído da comida, mais especificamente de uma sopa saboreada por um senhor japonês. “No Ocidente a educação é outra; leve a colher até a sua boca”, repreende outro senhor., igualmente japonês. E em Tóquio! Isso sem contar um bizarro boliche onde o som ambiente grita uma horrível versão orquestrada da canção italiana “Sole Mio”. O Japão da época é um efervescente caldeirão de referências aberto para o ocidente.
E como mistério pouco é bobagem, há ainda a interessante personagem coadjuvante, de pouca função dramatúrgica mas forte carga emotiva, de uma mulher apaixonada por Muraki. Sem grandes explicações, ela é obrigada por seu pai a passar todas as noites tomando conta de uma loja de relógios, atormentada por um enlouquecedor tiquetaque sem fim.
O final com as portas fechadas e as soluções em aberto, deixando todos no escuro – literal e figurativamente – é sensacional.
“Flor Seca” é baseado no livro de Shintarô Ishiraha, e tem direção de de Masahiro Shinoda, cineasta premiado em Cannes, Berlim e vários outros festivais pelo mundo, mas que tem sua obra praticamente desconhecida no circuito brasileiro.
CONTOS BRUTAIS DE HONRA (“Showa Zankyo-den”), 1965.
A ação se passa pouco depois do final da 2ª. Guerra, em 1947. Dois clãs rivais – Kozu e Shinzei – disputam espaços nas barracas de um grande mercado a céu aberto. Na tentativa de promover a paz, ou de pelo menos minimizar o conflito, Aya, uma bela jovem do clã Kozu, é prometida em casamento para um dos líderes de Shinzei. Ela estava noiva de Seiji, mas a total ausência de notícias sobre o rapaz, que não retornou da guerra, torna o casamento inevitável. “Que lugar triste este mudo se tornou”, diz um dos líderes do clã Kozu, talvez se referindo ao pós-Guerra, talvez à sua família, talvez a ambos.
Mas eis que Seiji volta dos campos de batalha, causando uma alegria intensa e uma grande euforia entre os membros do Kozu (interessante notar que, por mais que a felicidade exploda entre eles, não há abraços, nenhum tipo de contato físico, bem ao estilo oriental). Agora, ele terá a difícil missão de chefiar seu clã, superar a dor de ver sua amada casada com um líder rival, e ainda tentar fazer justiça junto aos vendedores do mercado, cujas barracas têm sido controladas com violência pelos inescrupulosos Shinzei. Como se tudo isso não bastasse, Gennosuke, o antigo líder Kozu, assassinado pelos Shinzei, e que colocou Seiji em seu testamento para assumir a liderança do clã, deixou claro antes de morrer que nenhum tipo de violência deveria ser usada neste conflito, o que dificulta ainda mais o trabalho insano do novo líder.
É inebriante a riqueza de referências e subtextos que “Contos Brutais de Honra” apresenta. De uma forma ampla, o grande tema do filme é o da transformação, o da transição de antigo Japão imperial, que predominava antes da 2ª Guerra, para um novo Japão ocidentalizado que surge agora sob a tutela dos Estados Unidos. “Todos os que estão aqui começaram catando telhas e cacos depois do incêndio”, diz alguém durante a tentativa de criação de um sindicato. É a reconstrução, tarefa árdua que nem sempre traz os resultados desejados, e que caminha junto com a mudança de costumes. “Agora é moda dar direitos iguais às mulheres, né?”, diz, meio que rindo, o personagem Ishioka. Até nos figurinos do filme é possível ver os trajes orientais tradicionais amalgamados aos ocidentais modernos.
É bastante rica também a subtrama que acompanha Kazama, um homem misterioso que se une aos Kozu para procurar sua irmã, desaparecida durante a Guerra. Famílias separadas pelo conflito sempre formam um dos mais pungentes dramas dos filmes de guerra, sejam orientais, sejam ocidentais. Mais tarde descobriremos (e vai aí um rápido e inofensivo spoiler), que a irmã de Kazama tornou-se prostituta (outra trágica consequência do conflito mundial), adoeceu e, ironicamente, agora necessita de remédios norte-americanos para sobreviver. A presença e a dependência dos EUA, em contraposição à manutenção de tradições e costumes milenares, é outro tema bastante recorrente dos filmes japoneses, como não poderia deixar de ser.
É interessante perceber como uma suposta “modernidade capitalista” está do lado dos vilões: os líderes Shinzei querem cobrir o mercado para que os negócios sejam feitos a qualquer hora, com chuva ou sol, criando assim uma espécie de precursor dos shopping centers, e fazendo com que a quantidade indiscriminada das vendas realizadas seja vista como desenvolvimento, não importando o bem estar de todos. Em contraposição, Kozu tem uma proposta, digamos, social democrata (neo liberal talvez?), ao propor que os clãs abandonem a intermediação entre os vendedores e que cada um deles seja o responsável pelo próprio negócio. O próprio Seiji cogita montar uma barraquinha só sua e abandonar as intermediações nem sempre muito honestas.
Num caso de compra e venda de um grande terreno, os clãs chegam à conclusão que o negócio efetivado pelos Shinzei está de acordo com a legislação vigente, mas que tais leis de nada valem diante do código de honra Yakuza, anterior e superior à legislação, que reza que ninguém utilizará o terreno de seu semelhante para obtenção de lucros em detrimento do outro. Pensamento bastante significativo que ainda serve para ilustrar a força das tradições da Yakuza.
Mais para o final (e lá vem outro spoiler), não deixa de ser divertido quando o clã Kozu simplesmente percebe que não será possível cumprir a promessa de não usar a violência, e invade o clã inimigo, inclusive com armas de fogo, quase acabando com todo o elenco do filme. A cena final, com uma revoada de pombos, preconiza, ou pelo menos deseja, novos tempos de paz para o Japão.
A MARCA DO ASSASSINO (“Koroshi no Rakuin”), 1967.
Harada (Jô Shishido) é um assassino profissional conhecido como Número 3. Calculista, frio, conhecedor de seus deveres e atribuições, ele tem duas obsessões: saber quem é o Número 1… e uma paixão incontrolável por cheiro de arroz cozinhando. Certo dia, durante uma missão, Harada conhece e se apaixona perdidamente pela enigmática Misako (Anne Mari, nome artístico de Vasanthidevi Sheth), que imediatamente se torna outra obsessão em sua vida. O diálogo que introduz o casal de personagens é dos mais significativos (e machistas):
– Você é solteira?
– Eu detesto os homens.
– Então você não tem planos para o futuro.
– Minha esperança é morrer.
Apaixonado por Misako, Harada perde seu rumo, se desconcentram em seu trabalho, e passa a ser, ele próprio, o próximo alvo da organização criminosa para a qual trabalha.
Com talento e criatividade, o diretor Seijun Suzuki (mundialmente premiado por “Tsigoineruwaizen”, que faria anos depois) consegue passar para a tela toda a loucura do protagonista idealizada pelo roteirista Hachiro Guryu. Este, por sinal, é seu único roteiro filmado. A montagem elíptica, a trilha sonora dissonante, um clima bizarro de sonhos e alucinações, o tempo descontínuo, tudo contribui para retratar as perturbações de Harada.
É bastante tênue a linha que separa o drama da comédia. Em determinado momento do filme, a vítima a ser morta e seu potencial assassino são obrigados a conviver “pacificamente” enquanto o matador decide que método usar para matá-lo, o que dá margem a uma série de situações inusitadas e tragicômicas. Em outra cena, o protagonista utiliza um balão inflável para sua fuga, em momento tipicamente pastelão. Sem falar no optometrista que, ironicamente, leva um tiro no olho vindo diretamente do ralo da pia onde ele havia deixado cair nada menos que um olho falso. Não é à toa que Tarantino gosta tanto de filmes orientais antigos.
Porém, não foi fácil lançar o filme, na época. Descontentes com o resultado final, os executivos da produtora Nikkatsu resolveram não exibi-lo nos cinemas. Apoiado por cinéfilos, críticos, estudantes e outros cineastas, Suzuki entrou na justiça. Ganhou a causa, seu filme foi para as telas, mas o diretor amargou dez anos antes de conseguir trabalhar para outra produtora.
Repleto de violência estilizada, “A Marca do Assassino” ainda traz belos enquadramentos gráficos, além de pitadas de nudez e erotismo não muito comuns para a época. É o mais instigante filme da Caixa.
Curiosidade: com mais de 80 anos, Jô Shishido já fez mais de 140 filmes para cinema e TV, continua atuante até o fechamento deste texto (janeiro de 2015), mas seu trabalho raramente encontra distribuição no Brasil.
OS LOBOS (“Sussho Iwai”), 1971.
Em 1926, com a morte do Imperador Taisho (mais conhecido no ocidente como Yoshihito), o poder do Japão passa efetivamente às mãos de Hiroito, filho de Taisho, que já era regente do país desde 1921, em função de uma doença que acometera seu pai. Hiroíto inicia assim o período Showa, que empreende uma política de perdão e soltura de presidiários. O filme “Os Lobos” segue a trajetória de quatro destes criminosos libertos, e como eles atuaram nos violentos conflitos entre os clãs Kan´non-gumi e Enoki-ya.
Tudo começa com a celebração da união destes dois clãs, que estavam há quatro anos em guerra. Não se trata, porém, de uma união forte e segura, pois há muitas mágoas e feridas ainda abertas entre seus membros. A jovem Aya, do clã Enoki-ya, deveria ter esperado Tsutomu sair da cadeia para se casar com ele, mas ao invés disso ela se casará com um membro do clã Kanon´non-gumi, como parte das negociações de paz entre as duas facções (tudo bem parecido com “Contos Brutais de Honra”). O irascível Matsumoto é um dos homens do clã Enoki-ya que não se conforma com esta situação, alegando que tudo não passa de uma conspiração para que os Kanon´non-gumi adquiram ainda mais poderes, e que teriam sido eles próprios os causadores da guerra entre os clãs, quatro anos atrás. Iwahasi sabe que seu amigo Matsumoto tem razão, porém, mais centrado, ele tenta agir de forma equilibrada e política para que a paz entre os clãs realmente se concretize. Contudo, a tensão entre as duas facções é muito forte, e o suposto acordo de paz parece dos mais frágeis. O esfaqueamento de Tsutomu por parte de integrantes dos Kanon´non-gumi será o estopim que fará explodir toda esta violência latente.
Há belos momentos de fotografia, algumas cenas intensas de morte e sexo, mas o filme revala no recorrente problema dramatúrgico de elucidar as questões mais complexas apenas de maneira verbal, como numa radionovela, deixando a linguagem cinematográfica apenas para algumas cenas mais intensas. O melhor momento é o de uma mensagem transmitida através do bater de um tambor, durante um festival de música e dança.
GUERRA DE GANGUES EM OKINAWA (“Bakuto Gaijin Butai”), 1971.
Logo nos créditos iniciais já se faz notar a trilha sonora jazzística, um dos ícones da forte influência norte-americana que marca o Japão e o cinema japonês deste período. O primeiro plano, com a câmera baixa mostrando uma longa rua com folhas mortas sendo varridas pelo vento, é típico do western. E a narração em off que ouviremos a seguir parece saída diretamente de um noir dos anos 40. Um verdadeiro caldeirão de referências norte-americanas.
É do final desta rua e do meio desta ventania que surgirá Gunji (Kôji Tsuruta), líder do decadente clã Hamamura, que dominava o porto de Yokohama dez anos atrás, quando ele foi preso. Muita coisa mudou neste período: os homens de Hamamura se dispersaram e o porto foi dominado pela poderosa organização criminosa Daitokai, que age sob a fachada de uma empresa supostamente legal. A estratégia de Oba, líder da Daitokai, para dominar o porto foi maquiavélica: ele fomentou o conflito entre Hamamura e seu então maior rival, o clã Kohokukai, para enfraquecer a ambos. O famoso “dividir para governar”. Aparentemente mais organizada e mais profissional, a Daitokai se diz pertencer a uma nova era, uma “nova Yakuza”, em contraposição a uma velha geração representada pelo violentíssimo e autoritário Gunji. Consciente do poder de Daitokai, Gunji elabora então um plano para retornar à ativa: reunir a velha gangue e montar uma operação criminosa fora de Yokohama, mais precisamente no arquipélago de Okinawa, onde teoricamente haveria um promissor mercado a ser explorado.
A chegada do grupo a Naha, capital de Okinawa, é um dos grandes momentos do filme: o lugar fervilha de propagandas da Coca-Cola, Pepsi e de indústrias eletrônicas. Há loiros, negros, soldados americanos, cinemas com filmes estrangeiros, lojas, carros importados. A câmera na mão, solta na rua, sem se importar com os transeuntes (que olham para ela sem cerimônias) lembra a leveza dos primeiros tempos da Nouvelle Vague. Cabe aqui uma explicação: até 1609 Okinawa era um reino independente, sofrendo influências culturais da Coreia, Indonésia, Polinésia e China, esta última uma inimiga histórica do Japão. Isso proporcionou o desenvolvimento de uma cultura diferenciada naquele arquipélago, e até o crescimento de um preconceito entre os habitantes de Okinawa (anexada formal e definitivamente ao Japão em 1879) e os do Japão dito continental. Vê-se, no filme, a irritação de alguns homens “do continente” que não conseguem entender as palavras de uma canção cantada por uma mulher de Okinawa. Fala-se também do sonho das prostitutas de Okinawa em tentar vida melhor no continente. Após a Segunda Guerra Mundial, Okinawa permaneceu sob a administração dos Estados Unidos de 1945 até maio de 1972, período no qual os norte-americanos ali instalaram várias bases militares. O filme foi feito em 1971, ou seja, antes ainda da devolução de Okinawa ao Japão continental, tornando-se assim um belo registro histórico-documental do período em que os EUA dominavam o arquipélago.
Fechado o parêntese histórico-social, vemos que as coisas não serão tão fáceis como Gunji esperava: há também o domínio de clãs criminosos em Okinawa, e os territórios para a exploração de atividades ilegais terão de ser conquistados, como não podia deixar de ser, com muito sangue e violência.
É interessante como “Guerra de Gangues em Okinawa” coloca esta “nova Yakuza” em patamar bem similar às empresas capitalistas. Todos os membros da Daitokai se vestem como executivos ocidentais, de paletó e gravata, e o comportamento de seus líderes sugere muito mais negociações comerciais que conflitos entre facções. Não deixa de ser sugestivo. E coerente. Em meio a muita violência, o filme consegue ainda abrir espaço para alguns momentos de poesia, principalmente através da personagem da bela e sensível prostituta que se afeiçoa por Gunji. Ao entregar a ela um pacote de dinheiro, o líder Hamamura lhe diz: “Não importa quanto eu me apaixone por uma mulher, o máximo que eu consigo lhe oferecer é isso”, referindo-se ao dinheiro. É um belo momento de autoanálise de um protagonista que se vê, no final de tudo, apesar de todo o seu poder, privado de sentimentos e sensações.
A direção é de Kinji Fukasaku, cineasta dos mais premiados do Japão, responsável também pela direção das sequências japonesas do clássico de guerra “Tora!Tora!Tora!”.
SONATINE ou ADRENALINA MÁXIMA (“Sonatine”), 1993.
Mesmo contra a sua vontade, Murakawa (Takeshi Kitano) e parte de seu clã é obrigado por seus superiores a viajar até Okinawa, onde deverá negociar a paz entre duas gangues rivais. Lá chegando, porém, ele percebe que tudo não passa de uma cilada, e refugia-se, junto com seus homens, numa praia deserta, até que as coisas se acalmem. É ali, longe de tudo, exilados da violência diária da yakuza, que os até então terríveis gângsteres passam a se comportar como pessoas comuns, brincando, cantando, dançando, enfim, divertindo-se como se não houvesse amanhã, deixando fluir toda uma irreverência até então impensável.
Como quase sempre acontece em seus filmes, aqui novamente Kitano escreve, dirige e faz o papel principal. Um dos mais conhecidos cineastas japoneses no ocidente, Kitano já concorreu duas vezes à Palma de Ouro em Cannes e por sete vezes esteve na mostra competitiva de Veneza, tendo recebido um Leão de Ouro. É figura carimbada em inúmeros festivais internacionais, incluindo a Mostra de São Paulo. Seu estilo diferenciado mistura irreverentemente humor e violência gráfica, não tem medo de ousar esteticamente, e sua grande experiência em comédias japonesas lhe conferem um eterno ar de moleque que pode nos surpreender a qualquer momento. E surpreende.
Entre seus filmes mais conhecidos no Brasil estão “Brother”, “Verão Feliz” e “Hanna Bi – Fogos de Artifício”. “Sonatine” foi lançado no Brasil com o título enganador de “Adrenalina Máxima”.